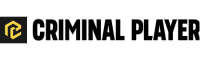Artigos Players
E se for só um cachimbo?
-
E se for só um cachimbo?
O Logos do Logo: Quando a Conclusão Vem Antes da Prova
Por Bruno Ferreira Couto
Na filosofia, logos representa a razão, a lógica, o princípio ordenador do discurso. No cotidiano, “logo” é um advérbio de conclusão, a palavra que usamos para apresentar um resultado que, supõe-se, deriva logicamente das premissas anteriores. O problema surge quando a ordem se inverte, quando a conclusão — o “logo” — já está decidida de antemão e a razão — o logos — é torcida para justificá-la. Este é o “logos do logo”: uma lógica perversa que, no campo do Direito Penal, se transforma em uma perigosa máquina de produzir injustiça, cujo resultado mais atroz é o cerceamento da liberdade.
Esse fenômeno tem nome: hiperinterpretação contextual ou construção por associação generalizada. Mais do que uma técnica deliberada, trata-se de um desdobramento quase natural da investigação, um vício de raciocínio que nasce do tirocínio e da idiossincrasia do investigador, que o leva a partir de uma premissa — “este indivíduo é um criminoso” — e, a partir dela, todos os fatos neutros de sua biografia são relidos e reconfigurados para servirem como prova dessa conclusão pré-estabelecida. Relações profissionais tornam-se “vínculos ocultos”; transações lícitas, “lavagem de capitais”; a contratação de um especialista, “cooptação de um operador”. A narrativa engole os fatos, e a presunção de inocência cede lugar à culpabilidade por contexto.
Tudo isso colide com um dos princípios mais basilares do direito: da mihi factum, dabo tibi ius — dai-me os fatos, dar-te-ei o direito. Se a aplicação da lei se submete aos fatos, a batalha pela interpretação e apresentação desses fatos torna-se o verdadeiro cerne da disputa jurídica. O domínio da narrativa é, portanto, fundamental. Quando a hiperinterpretação a sequestra, ela não apenas distorce a realidade; ela corrompe a própria fonte da qual o direito deveria emanar.
A Falha do Filtro e o Transbordo do Viés: Quando a Imparcialidade se Contamina
Para compreender como a hiperinterpretação contextual se torna uma ferramenta tão potente no arsenal punitivista, é preciso olhar para a raiz do problema: a persistência de uma cultura inquisitorial em nosso processo penal. Aury Lopes Jr., ao tratar da cultura inquisitória, recorre a Casara e Tavares para explicar que essa cultura se manifesta na “confusão entre acusador e juiz”. Quando o julgador “adere psicologicamente à versão acusatória”, o que se instaura é o “primado da hipótese sobre o fato”. A verdade, como valor, cede espaço para a “missão” de confirmar a narrativa da acusação.
Nesse cenário, a estrutura triangular do processo penal, com partes distintas para acusar, defender e julgar (actus trium personarum), desmorona. O imputado, na visão de Jacinto Coutinho, citada por Lopes Jr., transforma-se em “mero objeto de verificação”. Este modelo, desacreditado historicamente por um erro psicológico fundamental — a crença de que uma só pessoa pode exercer as funções antagônicas de investigar, acusar e julgar —, sobrevive em nossas práticas judiciárias, se distanciando do modelo pré-concebido do sistema acusatório.
É crucial esclarecer que não se busca aqui apontar culpados ou demonizar a atividade da polícia, do Ministério Público ou imputar negligência generalizada ao Judiciário. O que se pretende é abrir um espaço de discussão. A questão remete ao dilema proposto pelo pintor René Magritte em sua obra “A Traição das Imagens”, onde, sob a figura de um cachimbo, lê-se a frase “Isto não é um cachimbo”. A imagem trai a palavra, ou a palavra trai a imagem? Magritte nos alerta que vemos uma representação, não a coisa em si.
No direito penal, o mesmo ocorre: o investigador não lida com o fato puro, mas com sua representação nos autos. É neste ponto que a psicanálise nos oferece um conceito crucial: a <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>hiperinterpretação, definida por Freud e explorada por Paulo Vieira (2025) como uma “interpretação exagerada, que se baseia na pressa, na falta de conhecimento, […] preconceitos e crenças” de quem analisa. Em um cenário de sobrecarga processual, pressão por metas de desempenho e intensa <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>cobrança social por respostas penais, o investigador, tal como o analista apressado, corre o risco de praticar uma “investigação selvagem”. Ele deixa de ver o cachimbo e passa a ver apenas o que o cachimbo <i style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>pode representar dentro de sua hipótese inicial, transformando a máxima freudiana de que “<b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>às vezes um cachimbo é só um cachimbo” em um luxo que o sistema não pode se permitir.
Ocorre que, dentro dessa lógica, o processo de contaminação começa cedo. Excluídos os raros casos de desvio de finalidade, quando o tirocínio do investigador aponta para uma hipótese criminal, seu intelecto inicia a construção de um silogismo precário. Para compreender esse mecanismo, recorremos à investigação noética de Avicena, onde, como explica Meline Costa Sousa (2015), para que o conhecimento se realize, “não é suficiente que o intelecto, em conjunto com as faculdades estimativa e cogitativa, conceitualize os termos menor e maior do silogismo, mas ele também precisa intuir o termo médio”.
Transportando essa lição para a investigação, a faculdade estimativa do investigador apreende um fato concreto — o termo menor (ex: “o indivíduo realizou uma viagem”) — e atribui a ele uma intenção de suspeição. A hipótese criminal genérica se torna o termo maior (ex: “criminosos viajam para articular ilícitos”). Acometido pelo viés de confirmação, o investigador passa a “exercer funções como a de buscar confirmar a hipótese acusatória”. Sua faculdade cogitativa, então, seleciona e combina apenas os fatos que reforçam a narrativa inicial. A hiperinterpretação contextual é a consequência direta desse processo: um silogismo defeituoso onde o viés substitui a intuição de um termo médio real e probatório.
É neste ponto que a figura do juiz se torna crucial. Quando o magistrado se depara com uma representação por medidas cautelares (como prisões, buscas e apreensões ou quebras de sigilo) construída sob este viés, ele deve atuar como o filtro de proporcionalidade e legalidade. Seu papel não é o de um mero homologador, mas o de um leitor crítico da petição, questionando a narrativa, ponderando a real necessidade da medida e protegendo os direitos fundamentais do investigado.
Não se pode afirmar que este filtro falha como regra, e seria leviano estabelecer um panorama estatístico. Contudo, a experiência empírica demonstra que isso acontece mais do que deveria. E quando esse filtro falha, as consequências são duplamente graves. A primeira é o deferimento de uma medida invasiva e, por vezes, injusta, que viola direitos fundamentais de forma imediata.
A segunda, porém, é ainda mais perversa: ocorre o transbordo do viés de confirmação para o órgão julgador. Ao aceitar a narrativa da acusação sem a devida análise crítica, o juiz, que deveria ser o pilar da imparcialidade, se compromete diretamente com ela e internaliza a hipótese acusatória. Aquele “primado da hipótese sobre o fato” deixa de ser um problema exclusivo da investigação e contamina o próprio juízo, que passa a enxergar o processo através das lentes da acusação. A partir daí, a balança da justiça já pende para um lado, e o caminho para uma condenação baseada em associações generalizadas e interpretações forçadas está tragicamente pavimentado.
O Novo Paradigma da Advocacia: O Logos da Atuação é Logo
É neste momento, com o juízo já contaminado, que a “mágica acontece”. Munido de um acervo interminável de informações acerca da vida íntima do investigado, obtido a partir de seus dispositivos eletrônicos e dados em nuvem, o órgão de acusação interpreta aquele oceano de dados da melhor forma que lhe convier, normalmente confirmando a hipótese inicial. Mensagens, fotos, e-mails, transações e calendários são pinçados e descontextualizados para construir uma colcha de retalhos probatória que pareça coesa.
Esta hipótese “confirmada” e calcificada, agora respaldada por um conjunto probatório que muitas vezes não possui vínculo lógico com o elemento indiciário original, é exportada para uma denúncia e, em seguida, para uma sentença. É neste ponto que se evidencia a hercúlea, e muitas vezes frustrada, responsabilidade da defesa, cuja incapacidade de reverter a lógica já instalada no processo torna-se praticamente absoluta. A luta não é mais contra indícios, mas contra uma verdade processual solidificada, ainda que artificial, que já contaminou a cognição do julgador. E assim, sob postulado de preclusão e nulidade de algibeira, a injustiça (reconhecida) se perpetua e se cumprem metas de julgar e prender — nem sempre nessa ordem.
Este cenário, que não é novo, mas ganhou uma força avassaladora com a instrumentalização tecnológica dos órgãos de investigação e com a digitalização da vida das pessoas, revela-se um grande desafio e um novo paradigma para a advocacia.
Existe uma máxima antiga de que, durante o inquérito, o investigado e seu defensor deveriam adotar uma postura passiva, apenas observando os movimentos da investigação e aguardando o oferecimento da denúncia para, só então, “conhecer os limites da acusação”. Hoje, essa máxima é uma receita para o desastre.
Com a gama de informações disponíveis em um único smartphone, esperar a acusação se consolidar é permitir que a narrativa seja sequestrada. O paradigma tem que ser rompido. A defesa deve intervir diretamente no processo cognitivo da acusação. Cabe ao defensor, ao acompanhar de perto a produção de provas, questionar a legalidade e legitimidade dos seus meios de produção e fornecer ativamente novos elementos para a faculdade cogitativa do investigador, forçando-o a compor um cenário que vá além dos fatos selecionados pelo viés de confirmação. Ao apresentar contraprovas e narrativas alternativas, o advogado desafia o termo médio defeituoso — aquele elo frágil entre o fato e a suspeita — e auxilia o intelecto do acusador a intuir uma conexão lógica real, um termo médio que se sustente na prova, e não na presunção.
Essa atuação se torna ainda mais crucial diante de um erro grosseiro da acusação. É fundamental que a defesa intervenha o quanto antes, não apenas perante o juízo, mas também junto aos próprios órgãos de persecução, para evitar que o erro se aprofunde. Uma vez que a falha investigativa gera consequências graves, como prisões e exposição midiática, as eventuais repercussões funcionais e sociais para os agentes envolvidos podem se tornar um obstáculo intransponível para o reconhecimento posterior do equívoco, solidificando a injustiça.
Neste cenário, um novo paradigma se impõe ao advogado: o logos (a razão, a lógica) de sua atuação é logo (imediatamente). A defesa não pode mais ser reativa; ela precisa ser combativa e proativa desde o primeiro instante, contestando narrativas, oferecendo contraprovas e, acima de tudo, não permitindo que a acusação domine sozinha o campo de construção da verdade processual, tratando-se de uma evolução da gestão estratégica do caso. Em um mundo onde a vida inteira de uma pessoa cabe em um chip, a defesa de sua liberdade não pode esperar.
E Quando a Casa Já Caiu? A Advocacia da Reconstrução
Mas qual é o papel do advogado quando a ciência da investigação se dá tardiamente, no cumprimento de uma prisão ou de uma busca e apreensão, ou mesmo no recebimento da denúncia? Quando a casa já caiu, a estratégia não pode ser apenas a de se defender dos escombros. É preciso iniciar a arqueologia do processo.
O papel do advogado, nesse momento, é escrutinar todo o processo de formação de convicção da acusação, não a partir da denúncia, mas desde a notitia criminis. É seu dever verificar a justa causa para a persecução criminal na primeira oportunidade, logo. É muito provável que os motivos que fundamentaram a prisão ou a denúncia sejam totalmente diferentes daqueles que, fragilmente, “justificaram” a instauração do inquérito. Essa metamorfose da suspeita é a prova cabal da construção de uma narrativa.
Se, na origem do procedimento, for verificada a ausência de justa causa, esse vício transrescisório — um erro tão fundamental que transcende a coisa julgada — deve ser arguido. Essa arguição, por sua vez, confronta diretamente a interpretação muitas vezes distorcida do princípio pas de nullité sans grief (“não há nulidade sem prejuízo”). Como bem adverte Flavio Meirelles Medeiros (2020), a lógica correta não é exigir que a defesa prove o prejuízo de uma nulidade, o que seria uma “prova diabólica”, mas sim que “só não se declara a nulidade se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo”. A ausência de justa causa na origem é, por si só, o prejuízo máximo ao devido processo legal, pois contamina a própria existência da ação penal.
Ainda que não seja reconhecido de imediato, esta semente de nulidade deverá ser plantada e regada com frequência. A tarefa da defesa passa a ser a reconstrução da história do processo desde o seu início, revalorando cada ato processual não através do viés que o contaminou, mas de um termo médio dotado de coerência racional. Somente essa reanálise crítica, que expõe as falhas lógicas em cada etapa, permitirá, paulatinamente, a desconstrução da tese acusatória e o resgate da justiça.
Referências
1. JR., Aury L. Direito Processual Penal. 22. ed. Rio de Janeiro: Editora Saraiva, 2025. E-book.
2. MEDEIROS, Flavio Meirelles. “Pas de nullité sans grief” domesticado. Migalhas, 25 nov. 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/336868/pas-de-nullite-sans-grief-domesticado. Acesso em: 16 set. 2025.
3. SOUSA, Meline Costa. Os processos de aquisição dos termos do silogismo segundo a investigação noética de Avicena. Kriterion, Belo Horizonte, nº 131, Jun./2015, p. 25-44.
4. VIEIRA, Paulo. Isso não é um cachimbo: pintura de René Magritte. Psicanálise Clínica, 2025. Disponível em: https://www.psicanaliseclinica.com/isso-nao-e-um-cachimbo/. Acesso em: 16 set. 2025.
5. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.
Faça login para responder.